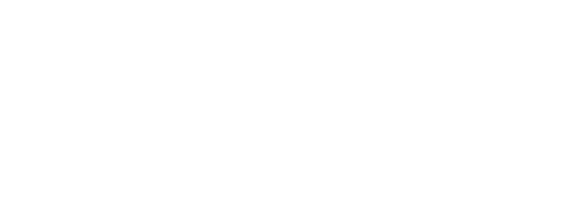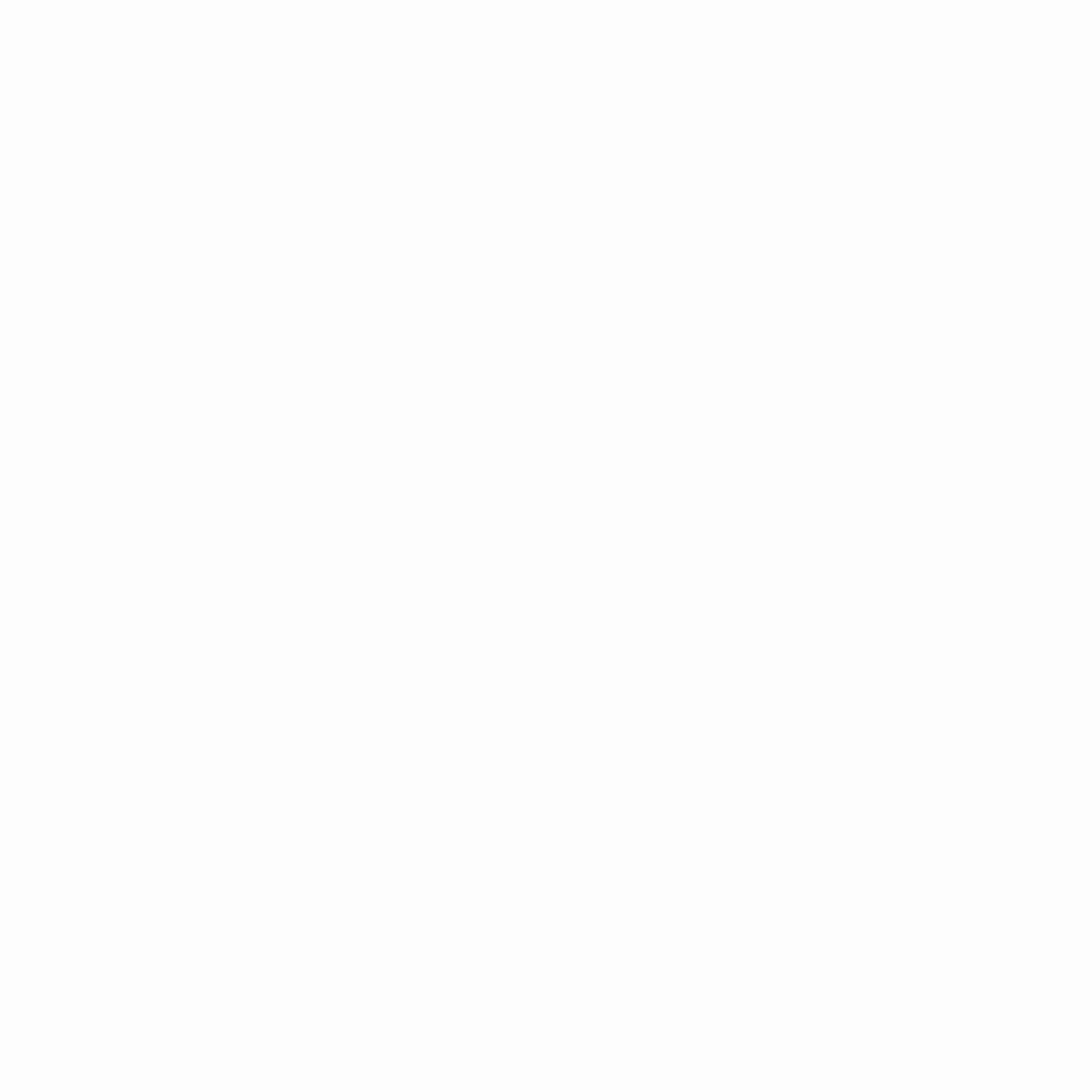A emergência climática é um dos maiores desafios da história. A sociedade sente os efeitos dessas mudanças de várias maneiras: na pele, com o aumento das temperaturas ou com o ar poluído; na mesa, com alimentos que oscilam de preço, não pela sazonalidade, mas porque a crise climática interfere também na sua produção; nos territórios, impactados com secas severas não previstas ou por histórias de vidas sendo levadas por enchentes e alagamentos; com a perda de pessoas próximas em eventos extremos. Não é de hoje que a ciência alerta sobre os efeitos das mudanças climáticas promovidas pela ação humana, especialmente de grandes corporações. Em 1969, o relatório “Problemas do meio ambiente humano: relatório do Secretário-geral”, da Organização das Nações Unidas (ONU), apontava: “Se as tendências atuais continuarem, a vida na Terra pode estar em perigo”.
De fato, o perigo está se concretizando. No contexto local, um estudo de 2024 da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) revelou que, ao longo dos últimos 63 anos, de 1961 a 2023, a temperatura no Ceará aumentou 1,8 °C. O valor é superior à média global de 2024, que foi de 1,5 °C, o maior desde a Revolução Industrial. No país, diversos territórios, urbanos e rurais, vêm enfrentando impactos negativos causados por iniciativas globais de exploração, como projetos eólicos divulgados como soluções totalmente limpas, mas que ignoram os efeitos danosos que têm gerado para as populações e para o meio ambiente.
Os alertas sobre o atual estado de emergência e as tentativas de mitigá-lo se fortaleceram no final do século XX e no início do século atual. No entanto, a queima de combustíveis fósseis, impulsionada pelo aumento da demanda global por energia, tem levado a recordes nas emissões de gases de efeito estufa, com consequências preocupantes para o clima. Em 1988, foi criado o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), uma iniciativa do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) e da Organização Mundial de Meteorologia (OMM), para fornecer aos governos informações científicas que possam ser usadas a fim de desenvolver políticas climáticas. Aquele contexto já apontava para o impacto social e econômico das mudanças do clima. Há mais de 30 anos, a II Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, ou Rio 92, como ficou conhecida, ratificou o conceito de desenvolvimento sustentável, debatendo um modelo de crescimento econômico menos consumista e ambientalmente mais equilibrado. Também foi um marco para o reconhecimento de que os países mais ricos e desenvolvidos tinham uma grande responsabilidade sobre os danos causados ao meio ambiente.
Também foi no Brasil, durante a Rio+20, conferência das Nações Unidas realizada no Rio de Janeiro, em junho de 2012, que os 193 Estados-membros da organização discutiram a criação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), ampliando os Objetivos do Milênio (OMM). Os ODS são um plano de ação com 17 objetivos globais que devem ser cumpridos até o ano de 2030, na busca de que todos os países cresçam e cooperem nessa agenda de sustentabilidade. No entanto, um relatório da ONU de 2024 alertou que apenas 17% das metas dos ODS estavam na direção correta para serem cumpridas. Em novembro de 2016, entrou em vigor o Acordo de Paris, um tratado internacional para tentar limitar o aquecimento global. Ele foi adotado por quase 200 países partes na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP21), em Paris, na França. No entanto, ainda há empecilhos para a cooperação total; por exemplo, no início de 2025, o presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, assinou uma ação de execução que retira o país do acordo, mesmo sendo um dos 10 maiores emissores de CO2 do mundo. Assim, a execução do Acordo de Paris se dá a passos lentos.
As universidades têm um papel essencial na busca por mudanças, porque são produtoras de ciência, sobretudo as universidades públicas, e o debate sobre clima precisa estar baseado em uma ciência socialmente referenciada, que aponte caminhos inclusivos para o atual contexto de emergência climática, tendo como princípios a defesa dos direitos humanos e a justiça social e climática. As universidades têm a possibilidade de fazer esse diálogo com a sociedade desde as salas de aulas, ao incluir a questão ambiental nos currículos de modo transversal, abrangendo as práticas e as reflexões dos futuros profissionais, até as atividades de pesquisa e extensão. Estudos e pesquisas são essenciais para que o mundo saiba, de fato, qual é o panorama atual e como agir sobre ele, com proposições, ações e mudanças de perspectiva, baseadas em informações e evidências.
Nesse cenário, a universidade é essencial na produção de conhecimentos que podem ser transformados em respostas práticas para o atual contexto: seja na formação de profissionais ambientalmente responsáveis; seja no desenvolvimento de pesquisas; seja na extensão, pela conexão com comunidades e territórios, aliando o conhecimento científico ao popular e dialogando com a sociedade civil e com movimentos populares; seja na produção de dados e outras informações, no diálogo com outros agentes, como os meios de comunicação; seja na atuação como agente político, na proposição de uma transição energética justa, na defesa de direitos e na incidência dessa pauta global. A universidade é também espaço propício para a formação de jovens lideranças, que atuem diretamente no enfrentamento às mudanças climáticas e no combate ao negacionismo científico e climático.
Como se nota, a crise climática não é apenas um fenômeno ambiental, mas também social, econômico e político. Por isso, é necessário responsabilizar as grandes corporações que vêm explorando territórios e lutar em prol da Justiça Climática, pensando soluções integradas às dinâmicas locais.
*Texto de apresentação do mês de janeiro da Agenda 2026 da ADUFC.